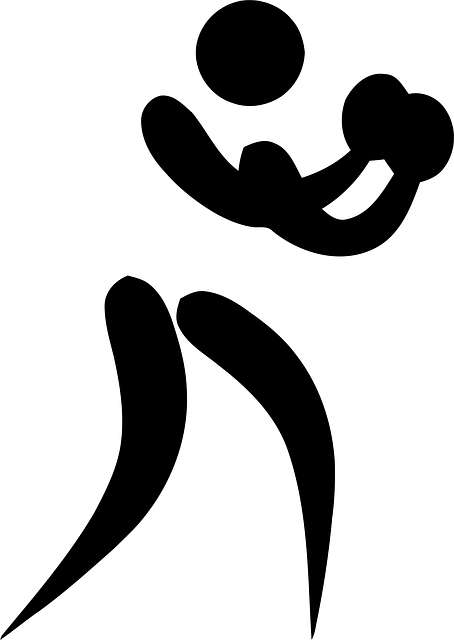
dezembro de 2012, Bruno Lima Rocha (Bruno Rocha)
Tarde de domingo, primavera no litoral sul do Brasil. Dezenas de atletas se aglomeram ao redor de seus técnicos e segundos. Ao centro do ginásio, um ringue, quatro cantos, vermelho, branco, azul e branco. Luz solar brilhando lá fora e luto nas camisetas. Anos antes, mataram um pugilista, negro, esguio e ágil como tantos outros; brilhante, com garra e técnica como poucos. Mataram um pugilista, e poderia ser seu filho.
Sombra e luva na dor da mãe
Na entrada do ginásio, claro e iluminado, havia uma penumbra, pairava algo de gris na tarde desportiva. Nada escapava desse clima, ao menos, nada que este aqui percebesse. Todos os momentos refletiam essa angústia; na hora deu vontade de escrever, mas era impossível. Tinha guris para cuidar, lutas a cumprir e como a gente sabe, em dia de evento do boxe olímpico, as horas nunca passam.
“Se troquem e comecem a aquecer! O fulano é a segunda luta e o beltrano entra na sexta!” Todos de azul e começa o baile, dá-lhe movimentação; tem de acelerar o batimento. Logo no começo, fomos meia-boca, não levamos. Era a hora da virada. Aumenta a tensão.
Ao fundo da quadra, atrás da tabela do placar, dois atletas se aqueciam. Sombrinha batendo luva no reflexo. A equipe vinha de derrota na primeira luta; no quadrilátero, o juvenil que joga no meio médio ligeiro ficou sem gás e mal se agüentou até o final do terceiro assalto. Os demais boxeadores ficam ainda mais ansiosos, o medo de perder gela os olhos dos galos. Criados na vila, eles logo aprenderam a temer pouco ou nada. O problema é esse, naquele lugar, o medo se esconde atrás de punhos de aço. Bate luva, e reflexo, e por vezes o aquecimento parece luta, a coisa esquenta, até que ela – a mãe do pugilista que mataram – passa por ali.
Um par de luvas azuis, da fábrica àquela que fica no Vale dos Sinos. Bah, PU com 8 onças, lá onde bate dói, e dói mesmo. Fazer o que? É o par de luvas mais barato e equipe pequena, na forma de projeto social, tem de se virar como pode. Luva de PU, 8 onças, é o bastantão dos treinos.
Quem bate e sofre com dor e a reação, sabe o que passa antes de subir. O meu pesado estava meio ansioso; meio não, muito ansioso. Com o psicológico meio complicado (meio não, muito complicado), somado com a adrenalina da última sombra antes do combate, o “guri” de 90 kgs e 1,91 de altura soltava os braços com vontade; veloz demais, por vezes atingia a maçã do rosto do meio-pesado, seu parceiro de treinos e luvas.
A cena, eu suponho, deve ter mexido com a memória da mãe do campeão que o Estado em armas matou. Ou foi o porco, ou foi apenas rixa. Importa pouco ou nada agora, porque ele não foi para as Olimpíadas, não disputou o ouro no médio (e ganharia, ah ganharia) e agora sua presença é na memória de quem a cultiva. Quando a cultiva. Inesquecível dizem todos que com ele treinaram, as testemunhas de tardes de domingo como àquela, quando o guri se transformava em três homens e como um furacão rompante, atravessava as guardas como quem cruza ruas sem movimento de tráfego.
O piá é inesquecível para os companheiros de esporte, e antes de nada para sua mãe, certo que sim, mãe não esquece, nunca. Tanto não se esquece como se lembra, ela pode tê-lo visto naquele momento, os olhos quase lacrimejando, pálpebras pesadas, sua face negra refletiu o pesar e a dor ao ter os olhos ofuscados pelo sol de primavera do litoral norte e lagunar do Brasil mais ao sul.
Por menos de um minuto, e 40 segundos é muito tempo em luta, as luvas pararam de bater e fez-se silêncio. Me calei – porque como todo técnico, a gente fala o tempo todo e grita na maioria das vezes -, os guris olharam para o chão e a mãe passou. As escadas pesavam, cada degrau era uma eternidade, com os cantos dos olhos ela mirava aos dois em uniforme azul, mãe sabe e nunca esquece. Como pesa ser mãe de mártir! Como pesa ser observado por uma mãe de mártir, de um ex-futuro campeão olímpico!
Vale como máxima. Os filhos devem enterrar os pais, e não ao contrário. Na camiseta branca da mãe negra, o retrato do guri. Sorrindo, em guarda, esperança na ponta das luvas. Se estivesse vivo, ah se estivesse vivo, Esquiva, Yamaguchi e Adriana teriam companhia naquele pódio londrino. Agora, resta a memória e a dor. Uma mãe não deve enterrar seu filho, a mãe de um boxeador deve temer as lesões nos treinos e no ringue, nunca na rua.
Atleta não arruma encrenca, sai de casa para o treino, estuda, trabalha ou treina de novo, e depois dorme. Não faz nada, vive como um espartano. Sua preparação guerreira se faz batendo bolsa, teto-solo, pêra e manopla. No máximo, um pugilista xinga, fala palavrão, e baixo, porque os velhos estão sempre de olho e a bronca é universal, pega todo mundo, treinador, segundo, colega de treino, torcida, atleta, menos pai e mãe. Menos ainda pai e mãe de mártir da causa dos tortos. Sim, porque como diz um ícone gaúcho desta estranha religião do corpo, quem boxeia é torto, ou porque quer se vingar da sociedade, ou porque quer consertá-la. Dessa vez não, já não tinha muito conserto.
O pai também olha triste, mas sério. Homem não chora; menos ainda num torneio de boxe olímpico que leva o nome de seu filho. Passei pelo homem que ajudou a pôr o mártir no mundo dos vivos lá no corredor debaixo da arquibancada e gelei. “Nossa, isso parece a letra de Hurricane, de Bob Dylan.”
…he could have been the champion of the world! E podia mesmo, pódio olímpico ou mais!
Olhava os pais do guri e pensei: “Como será que dorme o homem que matou o guri na covardia?” Será que dorme, será que consegue dormir? De repente, num instante, breve, muito breve, imaginei a cena como revanche imaginária. Na vingança da vida, o assassino dorme de barriga para cima, porque deve estar obeso e a mulher já não lhe dá nada, nem atenção e menos ainda o corpo. De algum lugar, do além ou da eternidade, a fera da seleção brasileira o mira com desprezo. Lá de cima, o piá que era craque nas luvas deve alterar um treinamento intercalado cruzado com longas sessões de corrida com sombra. No meio do treino, pára e aponta o nariz para o porco. Ri de nojo e volta a treinar. Boxeador olímpico não arruma tumulto, nunca, jamais, nem da paz eterna onde um pugilista nunca descansa.
Delirando de raiva, deixei de lado o treino dos meus guris e pensei na cena, novamente a imagem da mãe e do pai enterrando aquele guri que amedrontava meio mundo. Choravam de soluçar, uma mãe e um pai não deveriam enterrar seus filhos, é contra a ordem natural das coisas. Pensei no episódio e lembrei-me de um velho amigo, revoltado e ateu contra os destinos inesperados. Este veterano gritava quando uma pessoa jovem morria: “queria que Deus existisse, ao menos por uma vez, assim eu poderia xingá-lo, mandar esse cara à merda, gritando a farsa que ele é!”
Corredor da arquibancada e ausências
O corredor corria debaixo da arquibancada do lado da praça; no meio da tarde, daquelas tardes sem fim onde temos um evento com mais de 30 lutas, o lugar é o vai e vem para os banheiros, a saída para a rua e o caminho para quem já lutou, indo se fartar de “porcaria” no caprichado e nada porcalhão carrinho de cachorro quente. Acompanhado de duas crianças, dois guris na verdade, o pai do pugilista assassinado pelos brigadianos (ou pelo brigadiano, porque a instituição jamais vai admitir como sua grande obra a execução de um futuro campeão olímpico) andava de cabeça erguida.
Cruzamos por ele e pairava sobre suas costas um peso enorme. Negro, alto, grande, meio gordo e cara cansada. A foto do campeão estampada no peito, esguio, negro com luvas vermelhas numa estampa sobre a camiseta branca. Camisa barata, dessas de promoção de final de ano. Nada mais brasileiro, nada mais parecido com o boxe brasileiro. Nada mais rio-grandense do que uma bela tarde dominical soleada. Fazia sol, mas a luz era de luto. Cruzar por ele, cinco, seis vezes, era carregar nos ombros a dor da morte; mataram um boxeador, e poderia ser um dos meus, podia ter sido qualquer um daquela centena de adolescentes, de jovens, peleando com as luvas e punhos para desentortar a vida.
A verdade é simples e dura como um sparring. Poderia ser o filho de qualquer um de nós a gritar nos cantos, a quase morrer de enfarto nos corners, a delirar quando vencemos e a querer tomar os golpes no meio da face, desesperados que ficamos quando um guri nosso erra o fundamento que treinou a semana inteira, treinou meia hora antes de subir no quadrilátero, e erra de novo, pelos nervos, pelo medo, pela coragem em excesso.
As horas não passavam e parece que faltava um personagem, faltava alguém, faltavam alguns. Pouca gente viu os porquês. Ninguém viu um cartaz grande, um banner de tamanho gigantesco reivindicando o menino que era o orgulho da cidade e sua equipe de boxe olímpico. Não vimos porque a faixa era pequena. Também não se avistou a um brigadiano sequer no entorno daquele ginásio. Não havia a menor necessidade mesmo. Boa a estrutura, bom o ringue e como todo evento de pugilismo amador mais parece uma quermesse de igreja – daquelas à moda antiga, sem pregação da prosperidade, mas com barraquinhas e doces – não se faz falta segurança alguma.
Também, segurar o que? Primeiro porque nunca mais sai confusão, antigamente saía – na década de ’80, por aí, nos anos ’90 em todos os eventos de luta – mas agora, é bolo zero, tumulto algum. E, quando o tom de voz sobe, um dos velhos já grita (e por vezes o velho mais velho e que melhor se impõe), e grita com vontade, xingando com gosto, repetindo “não adianta, não adianta!”. Talvez por isso não tinha nenhum efetivo da Brigada lá. Talvez em função da vergonha, ou pela ausência de verba para segurança. Paramédicos sim, sem ambulância e socorrista não tem luta e nem sai evento. Mas, Brigada é desnecessário.
Era bom evitar os ânimos, afinal, lá todo mundo luta e a metade é torta, sendo que a outra parte vai entortar em breve. E se sai uma vaia contra o arigó de uniforme cáqui ali aparecendo de Charles Bronson? Na média, as mentalidades dali são conservadoras, elogiosas da segurança pública e do “inestimável papel” que os policiais cumprem para “o bem de nossa sociedade”. Não, lá não tinha nem porco, nem banner do guri que os porcos mataram e menos ainda o próprio guri, o boxeador que seria campeão olímpico, no mínimo pegaria pódio em Londres, tal como os capixabas e a Adriana.
Viamão-Porto Alegre, dezembro de 2012 (texto iniciado em novembro de 2012)
Bruno Rocha (Bruno Lima Rocha), técnico de boxe olímpico pela FRGP, professor (low-shi) de arte marcial tradicional de origem chinesa (estilo Ma), faixa marrom de Sanda (boxe chinês), roxa de Luta Livre Esportiva e coordenador-técnico do Centro de Lutas Desportivas-Viamão (projeto social para forjar lutadores de alto rendimento).
Email: bruno.maxyq@gmail.com /bruno.estrategiaeanalise@gmail.com
Facebook: Bruno Rocha (Viamão) / Bruno Lima Rocha
Facebook: Centro de Lutas Desportivas Viamão
Canal do Youtube: maxingyi
